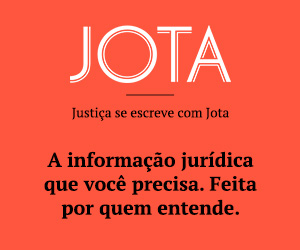Violência Doméstica: Impacto Sobre o Desenvolvimento Infantojuvenil
Trabalho realizado pelo Dr. Higor Bermudes durante sua especialização na Residência de Psiquiatria na Universidade de Santo Amaro
INTRODUÇÃO
Em 2019, o Disque Direitos Humanos (Disque 100), ferramenta telefônica criada pelo governo brasileiro com a finalidade de receber, analisar e encaminhar denúncias de violações de direitos humanos, apresentou 159.063 denúncias de maus-tratos, número 15% superior em relação ao ano de 2018 (PLATT et al., 2020).
Em 2020, ano marcado pela pandemia de COVID, organizações sociais e instituições não governamentais que são divulgadas na mídia, relataram o aumento de violência contra crianças e adolescentes durante a pandemia, com o aumento em 7,4% no Distrito Federal, 8,5% no Paraná, 73% no Rio Grande do Sul e 32% em Pernambuco (PLATT et al., 2020).
A violência constitui uma questão complexa, considerada um grave problema de saúde devido aos danos físicos e psicológicos que atingem pessoas do mundo todo, afetando indivíduos de diferentes classes, culturas, idades e religiões. Interações de diversos fatores parecem atuar sobre o comportamento humano, criando assim possíveis vítimas ou agentes de violência (SOARES e BARROS, 2015; SOARES et al., 2015). Em 1996, a Organização Mundial da Saúde (OMS) reconheceu a Violência Doméstica (VD) como um grave problema de saúde pública (KRUG et al., 2002).
São chamadas VD aquelas que ocorrem dentro do âmbito familiar ou doméstico, entre quaisquer dos membros familiares. Esse tipo de violência compreende formas diversas de violência que podem se manifestar nesse espaço (SILVA et al., 2007).
De acordo com Caravantes (2000) “a violência intrafamiliar pode ser compreendida como qualquer ação ou omissão que resulte em dano físico, sexual, emocional, social ou patrimonial de um ser humano, onde exista vínculo familiar e íntimo entre a vítima e seu agressor”.
Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2001) a VD pode ser dividida em violência física, violência sexual, negligência e violência psicológica. As quatro classificações de violência doméstica se misturam e se entrelaçam de diversas formas. Portanto, ao se investigar a VD, articula-se a violência psicológica e a violência física (SILVA et al., 2007).
O conceito de VD ampliado, descrito na Declaração sobre a Eliminação da Violência Contra a Mulher, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1993, embasa esta articulação:
“Todo ato de violência baseado em gênero, que tem como resultado, possível ou real, um dano físico, sexual ou psicológico, incluídas as ameaças, a coerção ou a privação arbitrária da liberdade, seja a que aconteça na vida pública ou privada. Abrange, sem caráter limitativo, a violência física, sexual e psicológica na família, incluídos os golpes, o abuso sexual às meninas, a violação relacionada à herança, o estupro pelo marido, a mutilação genital e outras práticas tradicionais que atentem contra mulher, a violência exercida por outras pessoas – que não o marido – e a violência relacionada com a exploração física, sexual e psicológica e ao trabalho, em instituições educacionais e em outros âmbitos, o tráfico de mulheres e a prostituição forçada e a violência física, sexual e psicológica perpetrada ou tolerada pelo Estado, onde quer que ocorra” (OMS, 1998).
Podemos citar ainda outro tipo de VD: a alienação parental. Vista também como violência psicológica. Marques (1994) a define como uma “forma de interferência negativa do adulto ou de pessoas mais velhas sobre a competência social da criança, conformando um padrão de comportamento destrutivo”. A OMS (2003) caracteriza este tipo de violência quando o responsável ignora as condições apropriadas relacionadas a saúde emocional e ao desenvolvimento infantil, podendo incluir ameaças e intimidações
O reconhecimento pela OMS em 1996 da VD como grave problema de saúde pública (KRUG et al., 2002), impulsionou a criação de dois grandes documentos: o primeiro Relatório Mundial sobre Violência e Saúde, em 2002, e o Relatório Mundial sobre Prevenção à Violência. Este último se consolidou como o primeiro relato desse tipo a avaliar o combate à violência interpessoal, já que, neste documento, a OMS revelou lacunas nas medidas preventivas adotadas, reconhecendo que as consequências da violência doméstica não seriam apenas questões imediatas, como a morte e a mutilação, mas poderiam se estender a longo prazo, tendo repercussões de diversas formas sobre todos os aspectos da saúde das vítimas (OMS, 2014).
O tema também é frequentemente abordado e amparado pela sociedade e legislações brasileiras. Em 1990 a violência doméstica se mostra presente no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (BRASIL, 1990), que abrangeu a proteção integral a esse grupo específico. Em 2006, foi promulgada a Lei 11.340/2006 da VD e Familiar contra a Mulher (BRASIL, 2006), a conhecida “Lei Maria da Penha”, que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher.
Entre as formas mais recorrentes de VD estão a agressão física, o abuso emocional na presença de violência contra a mãe, e o abuso sexual, este último em menor grau. Concomitantemente, ocorre a negligência física, emocional, educacional e médica. Para a criança, a presença da violência contra a mãe, aliada ao sentimento de impotência, culminam por trazer a estes os mesmos efeitos da violência sofrida pela vítima (ĆURČIĆ-HADŽAGIĆ, 2020).
A violência doméstica no contexto de conflitos familiares provoca elevados níveis de ansiedade, relacionados a comportamentos agressivos em crianças. Relata-se que a agressão demonstrada por parte das crianças não é necessariamente uma resposta ao estresse de modo reativo, mas ocorre de modo proativo contra outras pessoas (TANAKA et al., 2011).
Conforme Barnet et al. (1997), crianças que vivem em famílias violentas têm maior probabilidade de viver sob estresse cumulativo. Sabemos que estas respostas traumáticas envolvem ampla gama de condições, como reações de estresse agudo, passando por transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) e outras síndromes relacionadas ao trauma precoce. Pode haver uma maior vulnerabilidade das crianças para a exposição aos diversos tipos de traumas, seja por aspectos envolvendo o seu desenvolvimento físico e psicológico, seja por questões de dependência dos cuidadores – característica dos seres humanos.
A exposição à VD é um importante fator de risco com graves efeitos negativos psicológicos, emocionais, sociais e de desenvolvimento neurológico em bebês, crianças, adolescentes e adultos. Esta exposição gera uma preocupação particular quando envolve bebês e crianças, com um crescente número de estudos apontando que as últimas sofreriam um impacto ainda maior (HUGHES e BARAD, 1983; HUTH-BOCKS, LEVENDOSKY & SEMEL, 2001; HOLT, BUCKLEY & WHELAN, 2008).
O elevado nível de estresse associado à exposição a VD pode interromper estágios críticos do neurodesenvolvimento e produzir alterações neurobiológicas corticais, no mesencéfalo e sistema límbico. Está associado também a volumes cerebrais menores em outras áreas cerebrais relacionadas ao processamento cognitivo e emocional (ANDERSEN et al., 2008; TEICHER & SAMSON, 2013; TSAVOUSSIS et al., 2014).
Com isso, procuramos responder à questão: o quanto a VD influencia no neurodesenvolvimento infantil e quais as consequências psicopatológicas envolvidas?
Temos, como hipótese, que a VD poderia aumentar a vulnerabilidade para o desenvolvimento de transtornos mentais ainda na infância, interferindo em processos de aprendizagem, afetando a cognição e alterando seu comportamento. Os transtornos mentais associados ao trauma precoce e prolongado, podem aparecer também em fases mais adiantadas do desenvolvimento do indivíduo (adolescência e idade adulta). Diversos quadros foram associados a experiências de trauma grave na infância: transtornos do neurodesenvolvimento, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), transtorno de oposição desafiante (TOD), transtorno de conduta, depressão resistente ao tratamento, transtornos da personalidade, transtorno bipolar, transtorno de pânico, fobia social, transtornos dissociativos, transtornos relacionados a substâncias, dentre outros (APA, 2013).
OBJETIVOS
Objetivo Geral
Investigar a influência da violência doméstica no neurodesenvolvimento infantil.
Objetivo Específico
Abordar as consequências psicopatológicas da violência doméstica na infância e adolescência
METODOLOGIA
A revisão de literatura sistemática, em nível exploratório, foi adotada como método da presente pesquisa com abordagem qualitativa.
A revisão sistemática inclui a formulação de uma questão norteadora, efetuando a seleção com avaliação crítica dos estudos, com a inclusão daqueles que irão entrar no trabalho, interpretação dos dados para desenvolver a fase crítica de aprimoramento e atualização da revisão (ROTHER, 2007; ALVARENGA, 2012).
A pesquisa qualitativa está relacionada a encontrar soluções para problemas com ênfase social, arqueológica, antropológica, psicológica, cultural, histórica ou criminalista. O enfoque fenomenológico compreende e descreve situações de maneira profunda e integral, considerando o contexto em que está inserido e seu comportamento, buscando sua compreensão. (ALVARENGA, 2012).
Para tanto, foram utilizadas as bases de dados: Pubmed (Medline), LILACS e Cochrane. O critério de inclusão para elaboração textual do trabalho foram artigos dos últimos dez anos (2011 a 2021), em português e inglês, com semelhança entre variáveis temáticas tratadas no título. As palavras utilizadas para encontrar os artigos foram: domestic violence, child development, e child neurodevelopment. Foram incluídos também outros artigos no corpo do texto e discussão com importância para o tema. Os critérios de exclusão foram: outras línguas que não a vernácula, inglês, e artigos anteriores a 2011.
RESULTADOS
Foram localizados 75 artigos, sendo 54 excluídos, totalizando 21 artigos para a inclusão no estudo. As razões para exclusão dos artigos do estudo foram: 2 artigos foram excluídos por estarem em outro idioma, 37 foram excluídos por não estarem de acordo com os objetivos da pesquisa e 15 foram excluídos após leitura minuciosa.
DISCUSSÃO
O impacto da violência doméstica no neurodesenvolvimento infantil
Pesquisas realizadas nos últimos 20 anos, evidenciaram a VD como um importante fator de risco para graves problemas psicológicos, emocionais e sociais, que acometem bebês, crianças, adolescentes e adultos. Os maus-tratos infantis, frequentemente relacionados às experiências de abuso ou negligência, representam um grave problema no âmbito social a impactam significativamente o desenvolvimento psicológico e neurobiológico. Considerável corpo de evidências aponta que a exposição a maus-tratos na infância, ou em qualquer estágio de desenvolvimento, pode ter consequências duradouras, estando associada a um aumento acentuado do risco para o desenvolvimento de transtornos mentais (DILEO et al., 2017; MASTORAKOS & SCOTT, 2019; LIPPARD & NEMEROFF, 2020).
Violência Doméstica presenciada na primeira infância e o desenvolvimento de estruturas cerebrais
A primeira infância é considerada um período crítico para as mudanças neuronais no cérebro em desenvolvimento. Em crianças, o intenso estresse associado à VD interrompe estágios importantes do neurodesenvolvimento, levando a alterações neurobiológicas em estruturas como o mesencéfalo, sistema límbico e córtex, bem como promove menores volumes cerebrais em outras áreas do cérebro que envolvem o processamento cognitivo (ANDERSEN et al., 2008; TEICHER & SAMSOM, 2013; TSAVOUSSIS et al., 2014).
Mudanças nessas estruturas funcionais do cérebro parecem ocorrer em resposta às experiências ambientais adversas e teriam por finalidade preparar a criança em desenvolvimento para futuros ambientes de alto risco (CICCETI & CURTIS, 2006).
Devido as mudanças neuronais que ocorrem após a exposição ao trauma, sugere-se que um dos principais fatores de risco para as alterações do desenvolvimento cerebral seria o processamento desordenado da informação. Deste modo, vieses de processamento de informações atuariam como um caminho-chave de vulnerabilidade para sintomas psiquiátricos, quando crianças maltratadas tornam-se vigilantes a sinais de ameaça em contextos sociais (BRIGGS-GOWAN et al., 2015).
Este padrão de atenção vigilante à ameaça, embora adaptativo em situações reais de ameaça, pode estimular interações sociais hostis em contextos mais neutros, contribuindo para maiores problemas socioemocionais em crianças expostas (MASTORAKOS e SCOTT, 2019).
Estudos anteriores investigaram os efeitos de maus-tratos ou estresse em adultos, identificando reduções no volume dos subcampos hipocampais CA1, CA2–CA3, CA4/DG e do subículo, problemas no desenvolvimento do CA4/DG esquerdo, e um maior presubículo na adolescência (WHITTLE et al., 2017).
Tais levantamentos suportam a preocupação especial da exposição à VD em bebês e crianças, com um crescente corpo de estudos indicando que crianças muito novas demonstraram o impacto mais negativo da exposição à VD, por conta dos efeitos sobre o neurodesenvolvimento (FANTUZZO et al., 1997; KITZMANN et al., 2003; CICCETI & CURTIS, 2006; ANDERSEN et al., 2008; TEICHER & SAMSOM, 2013; TSAVOUSSIS et al., 2014; MASTORAKOS & SCOTT, 2019).
Além disso, crianças muito novas, em comparação com crianças mais velhas, por estarem frequentemente na presença de suas mães, apresentam reduzidas estratégias independentes de fuga, estando assim mais propensas a serem expostas à violência direta do que a indireta (FANTUZZO et al., 1997; KITZMANN et al., 2003).
Embora os problemas de cunho psicossocial sejam comumente estudados na interface violência e saúde, são escassos os trabalhos que examinaram sua associação com questões fisiológicas (LUGARINHO, AVANCI & PINTO, 2017). O estresse psíquico significativo acarretado pela violência, especialmente em crianças e adolescentes, é bem conhecido. A relação intrínseca entre trauma e estresse constitui um ciclo que constantemente se retroalimenta. Esta exposição ao estresse crônico tem o potencial de aumentar em três a quatro vezes a ocorrência de situações médicas adversas (MILLER, CHEN & ZHOU, 2007).
Os estudos experimentais sobre a análise fisiológica e bioquímica do eixo hipotálamo-hipofisário-adrenal (HHA), do hormônio cortisol e sua função biológica no organismo, assim como da resposta do cortisol ao despertar e seu ritmo circadiano, começaram a ser desenvolvidos no final da década de 1980 (COHEN et al., 2006). Uma das hipóteses para as disfunções cognitivas em indivíduos que apresentam estresse crônico é a alteração do eixo HHA, que promoveria o aumento nos níveis circulantes de cortisol, afetando tanto aspectos anatômicos quanto funcionais de estruturas cerebrais relacionadas ao desempenho cognitivo (LUGARINHO, AVANCI & PINTO, 2017).
Sabe-se que o eixo HHA é um dos principais efetores do sistema do estresse, e sua função principal é a manutenção da homeostasia, com a ativação do processo inflamatório, o aumento da resistência a dor, percepção ao ambiente, reflexos motores e atenção (NEMEROFF & BINDER, 2014). Os estímulos estressores servem para ativar a função do eixo HHA, sendo o cortisol um dos principais produtos bioquímicos produzidos por esse eixo. Tal ativação, em curto prazo, é plenamente adaptativa e necessária para a vida humana diária. Entretanto, ativações extremas (frequentes ou crônicas), devido a fatores estressantes recorrentes, geram resultados negativos para a saúde. Em uma revisão de literatura, Lugarinho et al. (2017) apontou a associação entre a alteração da expressão do eixo HHA e o desenvolvimento de doenças, como a depressão, declínio cognitivo, risco de doenças cardiovasculares e síndrome metabólica.
O cortisol, além de grande modulador da resposta imune, também é mediador da cadeia glicogênica relacionada à energia no enfrentamento de uma situação de perigo. Sabe-se que tanto a produção quanto a secreção do cortisol aumentam em quantidades crescentes, durante e após a exposição a alguns estressores (LUGARINHO, AVANCI & PINTO, 2017). O cortisol em excesso no sistema nervoso central (SNC) torna-se “neurotóxico”, alterando anátomo-fisiologicamente as estruturas cerebrais onde atua (DATSON et al., 2008). A hipercotisolemia gera a diminuição da arborização dendrítica em neurônios hipocampais, mais especificamente na área CA3, provocando também alterações na ramificação dos neurônios da amígdala. O córtex pré-frontal é altamente sensível a alta concentração de cortisol, sendo demonstrados diversos efeitos deletérios sobre neurônios dessa região, como redução no comprimento dendrítico, alteração axonal e morte neuronal (SHANSKY & MORRISON, 2009).
Instaurado o estresse crônico, ocorre a redução da expressão de neurotrofinas envolvidas na plasticidade sináptica, sobrevivência e reparo neuronal como, por exemplo, o fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) (ISSA et al., 2010; VINBERG et al., 2009). O BDNF está estruturalmente relacionado ao fator de crescimento neuronal, neutrotrofina 3 e neutrofina 4, abundantemente expressados no cérebro dos mamíferos, principalmente no hipocampo, córtex e amígdala (MURER E RAISMAN-VOZARI, 2001; NEIGH, GILLESPIE & NEMEROFF, 2009). Os níveis de BDNF podem ser aceitos como um marcador biológico do estresse (SERTOZ et al., 2008). Estudos sobre essa neurotrofina relacionaram a redução dos seus níveis em situações de estresse (SERTOZ e tal., 2008; ISSA et al., 2010) com transtornos como a depressão e diversas doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinson e Huntington (KOZISEK et al., 2008). Essa diminuição dos níveis de BDNF parece contribuir para a atrofia do hipocampo e do córtex pré-frontal (DUMAN et al., 2006). A redução dos níveis dessa neurotrofina, além da sua associação com a neurodegeneração e alteração na plasticidade sináptica, também está relacionada com déficits cognitivos, sugerindo que ela possa ser importante para a manutenção da performance cognitiva (YOSHII & CONSTANTINE-PATON 2010; YU et al., 2008).
O estresse crônico parece ter grande influência sobre a transcrição do BDNF. Tal fator merece muita atenção, tendo em vista sua importância para o crescimento da célula e as mudanças nas sinapses entre os neurônios (plasticidade sináptica) ao longo da vida, desempenhando um papel importante para a sobrevivência celular. Após a exposição ao estresse crônico, ocorre diminuição dos níveis de BDNF e de outras neurotrofinas. Consequentemente, há redução da neurogênese, diminuição da formação dendrítica e aumento da vulnerabilidade celular (PERITO & FORTUNATO, 2012).
A literatura científica dá amparo à hipótese de que a exposição prolongada a estressores provoca mudanças químicas e estruturais em diversas regiões cerebrais. Estudos em seres humanos e de modelo animal apresentam alterações no hipocampo (ADMON et al. 2009; ANDERSEN et al. 2008; RADLEY, 2005; GRASSI-OLIVEIRA, ASHY & MILNITSKY 2008), na amígdala (ANDERSEN et al. 2008; MORALES-MEDINA et al. 2009), no núcleo accumbens (MORALES-MEDINA et al. 2009), no córtex pré-frontal (ANDERSEN et al. 2008; ARNSTEN, 2009) e no córtex visual (CHOI et al. 2012; HANSON et al. 2012; OLIVARES et al. 2010; TOMODA et al. 2009 e 2012).
Trazendo ao ponto que nos interessa, segundo o National Scientific Council on the Developing Child, a cronicidade nas alterações do eixo HHA é capaz de afetar a arquitetura cerebral de crianças em desenvolvimento. Esse desequilíbrio persistente se associa ao déficit no desenvolvimento de estruturas cerebrais, relacionado à diminuição do volume das mesmas. Observam-se também alterações nas respostas biológicas frente ao evento adverso, gerando prejuízos no sistema imune e maior vulnerabilidade para o desenvolvimento de doenças clínicas e transtornos mentais (KOZISEK et al., 2008; NEIGH, GILLESPIE & NEMEROFF, 2009; BOECKEL, 2013; LIPPARD; NEMEROFF, 2020).
Tipos de violência doméstica
Abuso sexual infantil
A violência ou abuso sexual infantil é definida como ato ou jogo sexual, que tem a intenção de estimular sexualmente ou de fazer uso da criança ou do adolescente para obter satisfação sexual por parte de adulto ou de pessoa em estágio mais avançado de desenvolvimento (DESLANDES, 1994). Segundo Hildebrand et al. (2019), uma em cada quatro crianças sofre violência física e uma em cada cinco meninas já foi vítima de abuso sexual.
Violência física
Segundo Norman et al. (2012):
“A violência física infantil é definida como o uso intencional de força física contra uma criança que resulta em – ou tem uma alta probabilidade de resultar em – danos à saúde, sobrevivência, ao desenvolvimento, ou dignidade da criança. Isso inclui bater, chutar, balançar, morder, estrangular, escaldar, queimar, envenenar e sufocar. Ato de infligir violência física contra crianças, em ambiente domiciliar, com o objetivo de punir”.
As formas mais comuns de violência física contra as crianças são tapas, espancamentos com cintos e fios elétricos, e até expulsão de casa (CURCIC-HADZAGIC, 2020).
Violência psicológica
De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2002), a violência psicológica explica-se pelos atos de humilhação, desvalorização e ridicularização, onde a mãe da criança é jurada de morte e desvalorizada por seu companheiro. Em se tratando de uma outra dimensão da violência cujo impacto é significativo, as manifestações decorrentes da violência psicológica são raramente percebidas e notificadas, na medida em que os maus-tratos psicológicos são de difícil detecção por não apresentarem um quadro clínico específico (FROTA et al., 2016).
A negligência é caracterizada por um abandono parcial ou total dos responsáveis pela criança, e/ou a omissão na provisão das necessidades básicas e da supervisão essencial à segurança e ao desenvolvimento infantil, quando não associadas a privações socioeconômicas (MILANI & LOUREIRO, 2008).
A negligência, assim como a violência psicológica e a violência física, está entre os tipos de violência em relação direta a um maior risco de desenvolvimento de transtornos depressivos, quando comparadas a crianças que não sofreram abuso (NORMAN et al., 2012).
Associação entre as principais categorias de violência doméstica e transtornos psicológicos
Segundo o ECA (Brasil, 1990) a violência doméstica infantil pode ocorrer em quatro categorias: violência física, psicológica, sexual e negligência. Esta caracterização de diferentes tipos de violência não é um processo simples, tratando-se de um fenômeno heterogêneo que abrange a vida privada, o que torna muitas vezes difícil circunscrevê-lo (MILANI & LOUREIRO, 2008).
A maioria das crianças que sofreram abuso apresentaram quadro clínico de transtorno de estresse pós-traumático (TEPT), ou mesmo os sintomas típicos de TEPT, como distúrbios comportamentais, emocionais e físicos, ansiedade, insegurança, medo de novo abuso e gatilhos psicológicos de abusos de longa duração (ĆURčIć-HADžAGIć, 2020).
Embora as violências física e sexual habitualmente tenham maior destaque na literatura e nas mídias em geral, a violência psicológica tem se apresentado como altamente prejudicial à saúde física e mental da criança, impactando em seu desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral e social (NORMAN et al., 2012). Alguns estudos identificaram risco aumentado de TEPT, transtornos do humor e dependência química quando observados maiores níveis de violência psicológica e negligência (YEHUDA & GROSSMAN, 2001; YEHUDA et al., 2008, LIPPARD & NEMEROFF, 2020).
A violência infantil por negligência aparenta ser tão prejudicial quanto a física e emocional (NORMAN et al. 2012; HUMPHREYS & ZEANAH, 2015; GARDNER et al. 2019; LIPPARD & NEMEROFF, 2020). Em trabalho de revisão sistemática, Norman et al. (2012) encontraram significantes correlações entre violência física infantil e transtorno do estresse pós traumático, transtorno de pânico, transtornos de ansiedade, risco aumentado de desenvolvimento de bulimia nervosa, aumento do risco de desenvolvimento de dependência do álcool e outras drogas, ideação e tentativa de suicídio, apontando também evidências emergentes do impacto da negligência e violência física sobre estes transtornos. Estudos posteriores reforçaram esses achados (GARDNER et al. 2019; LIPPARD & NEMEROFF, 2020).
A relação entre maus-tratos na infância e ideação suicida foi observada também por Miller et al. (2017), em estudo de coorte acompanhando 682 jovens por um período de 3 anos, onde os maus-tratos emocionais foram preditores da ideação suicida, independente de ideação suicida anterior e gravidade dos sintomas da depressão.
Peyre et al. (2017) associaram os maus-tratos infantis à ocorrência de tentativas de suicídio em idades mais precoces. Outros estudos encontraram que maus-tratos infantis potencializam o risco de comportamento relacionado ao suicídio ao longo da vida (NORMAN, 2012; SHORT & NEMEROFF, 2014; AGNEW-BLAIS & DANESE, 2016; NEMEROFF, 2016).
Ainda assim, são necessários mais trabalhos no sentido de investigar os mecanismos biológicos que podem mediar a associação entre maus-tratos na infância e comportamentos relacionados ao suicídio (LIPPARD & NEMEROFF, 2020).
As relações entre abuso sexual infantil e suas consequências emocionais negativas foram bem estabelecidas nas últimas décadas (BROWNE & FINKELHOR, 1986; POLUSNY & FOLLETE 1995; ANDREWS et al., 2004; NORMAN et al., 2012).
Também tem sido relatada a importância das consequências duradouras após abusos emocionais, independentemente de outras formas de maus-tratos (WRIGHT, CRAWFORD e DEL CASTILLO, 2009; SHAFFER, YATES e EGELAND, 2009; NORMAN et al., 2012).
Em uma meta-análise de 2015, Mandelli, Petrelli & Serretti (2015) encontraram uma forte associação da violência emocional com a depressão, seguida por negligência e abuso sexual, um achado apoiado por outra meta-análise recente (INFURNA, 2016). Pesquisas amparadas em modelos de neurodesenvolvimento oferecem o arcabouço teórico para a compreensão da conexão entre experiências adversas na infância (EAI), funcionamento cognitivo e psicoses. Os sistemas cerebrais relacionados a funções cognitivas, o hipocampo e o córtex frontal, seguem diferentes trajetórias de desenvolvimento desde a infância até o início da adolescência, períodos estes sensíveis a fatores ambientais, incluindo as EAI. Deste modo, a disfunção cognitiva parece estar associada a modificações nestas estruturas influenciadas pelas EAI (AAS et al., 2013; HOV et al., 2012; CATTS et al., 2013; RUBY et al., 2014).
CONCLUSÃO
Essa revisão de literatura teve como objetivo investigar a influência da VD no neurodesenvolvimento infantojuvenil, abordando as consequências psicopatológicas nesta faixa etária. Os estudos evidenciam de forma recorrente uma possível relação causal entre a violência doméstica infantil e uma variedade de respostas psicopatológicas e transtornos mentais. Os processos envolvidos no trauma são complexos e típicos de variáveis ambientais. Não existe uma linha de corte nítida entre as condutas dos cuidadores que poderiam ser consideradas como violência doméstica e que, consequentemente, influenciariam o desenvolvimento cognitivo das crianças.
Com certeza, fatores culturais estão associados à tolerância que algumas culturas apresentam diante das atitudes e comportamentos que os pais ou cuidadores direcionam às crianças.
Na prática clínica, crianças traumatizadas atendidas em serviços de saúde mental costumam receber múltiplos diagnósticos, como transtornos do neurodesenvolvimento, transtornos da aprendizagem, transtornos do humor, ansiedade, fobias, transtornos de conduta, TEPT e podem iniciar precocemente o uso de substâncias psicoativas.
O cérebro de uma criança foi evolutivamente moldado para receber estímulos de todos os tipos. A privação do afeto por si só já interfere em variáveis cognitivas sutis, muitas vezes negligenciadas até mesmo nas avaliações profissionais. Podemos observar, em pleno século XXI, pessoas com dificuldade para desenvolver a empatia diante do sofrimento do outro.
Os traumas graves moldam o desenvolvimento da personalidade de uma forma desadaptativa e frágil. Muitos podem “endurecer” e tornarem-se violentos, perpetuando o ciclo de traumas para outras gerações. Em outros indivíduos, encontramos uma estrutura egoica porosa, fragmentada ou sem fronteiras bem estabelecidas com o mundo e os outros – vivenciam um sofrimento contínuo, com sentimentos de desespero, insegurança, ansiedade difusa, medo e ignomínia. Sobre a identidade, na maioria das vezes já na adolescência, pessoas traumatizadas desenvolvem distorções da imagem corporal, que se refletem em sintomas e comportamentos autodestrutivos e impulsivos.
Na psicopatologia, mesmo precocemente, crianças e adolescentes podem desenvolver quadros com componentes dissociativos e conversivos, envolvendo despersonalização, desrealização e somatizações. São prováveis mecanismos cerebrais adaptativos com a finalidade de compartimentalizar o sofrimento, distanciando da consciência a vivência dos traumas persistentes ou graves, permitindo que o indivíduo consiga dar continuidade a outras experiências, possivelmente mais saudáveis e adaptativas. Entretanto, esse mecanismo tem um custo. Neurobiologicamente, a violência doméstica irá cobrar o organismo através da tentativa de estabelecer um novo equilíbrio de adaptação ao estresse. A ativação de múltiplos sistemas de neurotransmissores, neuropeptídeos, fatores tróficos e hormônios terá um importante impacto em estruturas cerebrais importantes para o funcionamento cognitivo e afetivo de qualquer criança ou adolescente.
Atualmente, depois de instalados os prejuízos associados aos traumas da violência doméstica, ainda não dispomos de uma cartilha universal de como tratar esses jovens. Quanto mais precoce e preventiva a intervenção, aparentemente, menores serão as sequelas sobre o desenvolvimento. Contudo, a VD deixa um rastro de vulnerabilidades que muitas vezes contribuem para a continuidade do adoecimento e exposição a outros tipos de traumas.
REFERÊNCIAS
Aas M, et al. BDNF val66met modulates the association between childhood trauma, cognitive and brain abnormalities in psychoses. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2013; 46: 181–188.
Admon R, et al. Human vulnerability to stress depends on amygdala’s predisposition and hippocampal plasticity. Neuroscience 2009; 106(33): 14120–14125.
Agnew-Blais J, Danese A. Childhood maltreatment and unfavourable clinical outcomes in bipolar disorder: a systematic review and meta-analysis. Lancet Psychiatry 2016; 3(4): 342–349.
Alvarenga EM. Metodologia da investigação quantitativa e qualitativa. 2º edição. Assunção: A4 Diseños, 2012.
Andersen SL, et al. Preliminary evidence for sensitive periods in the effect of childhood sexual abuse on regional brain development. J Neuropsychiatry Clin Neurosci 2008; 20(3): 292–301.
Andrews G, et al. Child sexual abuse. In: Ezzati M, Lopez AD, Rodgers AA, Murray CJL. Comparative quantification of health risks: global and regional burden of disease attributable to selected major risk factors. Genebra: WHO; vol 2, chapter 23, p.1851-1940, 2004.
Arnsten AF. Stress signalling pathways that impair prefrontal cortex structure and function. Nat Rev Neurosci 2009; 10: 410-422.
Barnett OW, Miller-Perrin CL, Perrin RD. Family violence across the lifespan. London: Sage, 1997.
Boeckel MG. Ambientes familiares tóxicos: impactos da violência conjugal na vinculação entre mães e filhos, no reconhecimento de emoções e nos níveis de cortisol [tese]. Porto Alegre: Faculdade de Psicologia; 2013.
Brasil. Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasilia – DF. 1990. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art266. Acesso em: 05 fev. 2021.
Brasil. Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher (…), altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências. Brasília: Congresso Nacional, 2006. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm. Acesso em: 05 fev. 2021.
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Violência intrafamiliar: orientações para a prática em serviço. Caderno de Atenção Básica – n. 8. Brasília: 2001. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cd05_19.pdf. Acesso em 05 fev. 2021.
Briggs-Gowan MJ, et al. Attention bias and anxiety in young children exposed to family violence. J Child Psychol Psychiatry 2015; 56(11): 1194–1201.
Browne A, Finkelhor D. Impact of child sexual abuse: a review of the research. Psychol Bull 1986; 99(1): 66–77.
Caravantes L. Violência intrafamiliar en la reforma del sector salud. In: Costa AM, Merchánhamann E, Tajer D (Orgs.). Saúde, equidade e gênero: um desafio para as políticas públicas. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2000. p.18.
Catts VS, et al. Rethinking schizophrenia in the context of normal neurodevelopment. Front Cell Neurosci 2013; 7(60): 1-27.
Choi J, et al. Reduced fractional anisotropy in the visual limbic pathway of young adults witnessing domestic violence in childhood. Neuroimage 2012; 59(2): 1071–1079.
Cichetti D, Curtis WJ. The developing brain and neural plasticity: Implications for normality, psychopathology, and resilience: Developmental neuroscience. In: Cicchetti D, Cohen DJ (Eds.). Developmental psychopathology: Developmental neuroscience. 2 ed. New York, NY: Wiley, 2006.
Cohen S, Doyle WJ, Baum A. Socioeconomic status is associated with stress hormones. Psychosom Med 2006; 68(3): 414–420.
Ćurčić-Hadžagić N. Psychological Consequences in Abused and Neglected School Children Exposed to Family Violence. Psychiatr Danub 2020; 32 (Suppl 3): 367–370.
Datson NA, et al. Central corticosteroid actions: Search for gene targets. Eur J Pharmacol 2008; 583(2-3): 272–289.
Deslandes SF. Prevenir a violência: um desafio para profissionais de saúde. Rio de Janeiro: FIOCRUZ/ENSP/CLAVES – Jorge Careli, 1994.
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-5. 5th ed., American Psychiatric Association (APA), 2013.
Dileo JF, et al. Investigating the neurodevelopmental mediators of aggression in children with a history of child maltreatment: An exploratory field study. Child Neuropsychology 2017; 23(6): 655–677.
Duman RS, Monteggia LM. A neurotrophic model for stress-related mood disorders. Biol Psychiatry 2006; 59(12): 1116–1127.
Fantuzzo J, et al. Domestic violence and children: Prevalence and risk in five major US cities. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1997; 36(1): 116–122.
Frota MA, et al. Perspectiva materna acerca da repercussão da violência doméstica infantil no desenvolvimento humano. Enferm Cent O Min 2016; 6(2): 2180–2189.
Gardner MJ, Thomas HJ, Erskine HE. The association between five forms of child maltreatment and depressive and anxiety disorders: A systematic review and meta-analysis. Child Abuse Negl 2019; 96: 104082.
Grassi-Oliveira R, Ashy M, Milnitsky L. Stein Psychobiology of childhood maltreatment: effects of allostatic load? Rev Bras de Psiquiatr 2008; 30(1): 60-68.
Hambrick EP, Brawner TW, Perry BD. Timing of Early-Life Stress and the Development of Brain-Related Capacities. Front Behav Neurosci 2019; 13: 183.
Hanson JL, et al. Structural variations in prefrontal cortex mediate the relationship between early childhood stress and spatial working memory. J Neurosci 2012; 32(23): 7917–7925.
Hildebrand NA, et al. Resilience and mental health problems in children and adolescents who have been victims of violence. Rev Saúde Pública 2019; 53(17).
Holt S, Buckley H, Whelan S. The impact of exposure to domestic violence on children and young people: A review of the literature. Child Abuse Negl 2008; 32(8): 797–810.
Hoy K, et al. Childhood trauma and hippocampal and amygdalar volumes in first-episode psychosis. Schizophr. Bull 2012; 38(6): 1162–1169.
Hughes HM, Barad SJ. Psychological functioning of children in a battered women’s shelter: a preliminary investigation. Am J Orthopsychiatry 1983; 53(3): 525–531.
Humphreys K, Zeanah C. Deviations from the expectable environment in early childhood and emerging psychopathology. Neuropsychopharmacology: official publication of the American College of Neuropsychopharmacology 2015; 40(1): 154-170.
Huth-Bocks AC, Levendosky AA, Semel MA. The direct and indirect effects of domestic violence on young children’s intellectual functioning. J Fam Violence 2001; 16(3): 269–290.
Infurna MR, et al. Associations between depression and specific childhood experiences of abuse and neglect: A meta-analysis. J Affect Disord 2016; 190: 47–55.
Issa G, Wilson C, Terry Jr AV, Pillai A. An inverse relationship between cortisol and BDNF levels in schizophrenia: Data from human postmortem and animal studies. Neurobiol Dis 2010; 39(3): 327–333. 2010.
Kitzmann KM, et al. Child witnesses to domestic violence: A meta-analytic review. J Consult Clin Psychol 2003; 71(2): 339-352.
Kozisek ME, Middlemas D, Bylund DB. Brain-derived neurotrophic factor and its receptor tropomyosin-related kinase B in the mechanism of action of antidepressant therapies. Pharmacol Ther 2008; 117(1): 30–51.
Krug EG, et al. The world report on violence and health. Lancet 2002; 360(9339): 1083–1088.
Lippard ETC, Nemeroff CB. The Devastating Clinical Consequences of Child Abuse and Neglect: Increased Disease Vulnerability and Poor Treatment Response in Mood Disorders. Am J Psychiatry 2020; 177(1): 20-36.
Lugarinho LP, Avanci JQ, Pinto LW. Perspectivas dos estudos sobre violência na adolescência e cortisol: revisão bibliográfica sistemática. Cienc saúde coletiva 2017; 22(4): 1321–1332.
Mandelli L, Petrelli C, Serretti A. The role of specific early trauma in adult depression: A meta-analysis of published literature. Childhood trauma and adult depression. Eur Psychiatry 2015; 30(6): 665–680.
Marques MAB. Violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes. Petrópolis: Vozes. 1994.
Mastorakos T, Scott KL. Attention biases and social-emotional development in preschool-aged children who have been exposed to domestic violence. Child Abuse Negl 2019; 89: 78–86.
Milani RG, Loureiro SR. Famílias e violência doméstica: condições psicossociais pós ações do conselho tutelar. Psicol cienc prof 2008; 28(1): 50-67.
Miller AB, et al. Childhood Emotional Maltreatment as a Robust Predictor of Suicidal Ideation: A 3-Year Multi-Wave, Prospective Investigation. J Abnorm Child Psychol 2017; 45(1): 105–116.
Miller GE, Chen E, Zhou ES. If it goes up, must it come down? Chronic stress and the hypothalamic-pituitary-adrenocortical axis in humans. Psychol Bull 2007; 133(,): 25–45.
Morales-Medina JC, Sanchez F, Flores G, Dumont Y, Quirion R. Morphological reorganization after repeated corticosterone administration in the hippocampus, nucleus accumbens and amygdala in the rat. J Chem Neuroanat 2009; 38(4): 266–272.
Murer MG, Yan Q, Raisman-Vozari R. Brain-derived factor in the control human brain, and Alzheimer’s disease and Parkinson’s disease. Prog Neurobiol 2001; 63(1): 71-124.
Neigh GN, Gillepie CF, Nemeroff CB. The neurobiological toll of child abuse and neglect. Trauma, Violence Abuse 2009; 10(4): 389–410.
Nemeroff CB. Paradise Lost: The Neurobiological and Clinical Consequences of Child Abuse and Neglect. Neuron 2016; 89: 892–909.
Nemeroff CB; Binder E. The preeminent role of childhood abuse and neglect in vulnerability to major psychiatric disorders: toward elucidating the underlying neurobiological mechanisms. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2014; 53(4): 395–397.
Norman RE, Byambaa M, Rumna D, et al. The Long-Term Health Consequences of Child Physical Abuse, Emotional Abuse, and Neglect: A Systematic Review and Meta-Analysis. PLoS Medicine 2012; 9(11): e1001349.
Olivares R. et al. Densidad neuronal en la corteza visual primaria (área 17), en ratas sometidas a estrés crónico. Int J Morphol 2010; 28(3): 855-860.
OMS. Organização Mundial de Saúde. Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud. Washington, D.C.: Organización Panamericana de la Salud. 2003. Disponível em: https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/es/summary_es.pdf. Acesso em: 09 fev. 2021.
OMS. Relatório mundial sobre a prevenção da violência. 2014. Disponível em: https://apps.who.int/iris/handle/10665/145086. Acesso em 30 jan. 2021.
OMS. Violencia contra la mujer: un tema de salud prioritario. Ginebra: Sexta Sesión Plenaria, 25 de mayo de 1996. 1998. Disponível em: https://www.who.int/gender/violence/violencia_infopack1.pdf. Acesso em: 09 fev. 2021.
Perito MES, Fortunato JJ. Marcadores Biológicos da Depressão: Uma Revisão Sobre a Expressão de Fatores Neurotróficos. Revista Neurociências 2012; 20(4): 597-603.
Peyre H, Hoertel N, Stordeur C, et al. Contributing Factors and Mental Health Outcomes of First Suicide Attempt During Childhood and Adolescence: Results From a Nationally Representative Study. J Clin Psychiatry 2017; 78(6): e622–e630.
Platt VB, Guedert JM, Coelho EBS. Violencia contra crianças e adolescents: notificações e alerta em tempos de pandemia. Rev paul pediatr 2021; 39: e2020267.
Polusny M, Follete VM. Long-term correlates of child sexual abuse: Theory and review of the empirical literature. Appl Prev Psychol 1995; 4(3): 143–166.
Radley JJ, Morrison JH. Repeated stress and structural plasticity in the brain. Ageing res rev 2005; 4(2): 271-287.
Rother ET. Revisão sistemática X Revisão narrativa. Acta Paul. Enferm 2007; 20(2).
Ruby E, et al. Pathways associating childhood trauma to the neurobiology of schizophrenia. Front Psychol Behav Sci 2014; 3(1): 1–17. 2014.
Sertoz OO, et al. The role of BDNF and HPA axis in the neurobiology of burnout syndrome. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2008; 1(32):1459–1465.
Shaffer A, Yates TM, Egeland BR. The relation of emotional maltreatment to early adolescent competence: developmental processes in a prospective study. Child Abuse Neglect 2009; 33(1): 36–44.
Shansky RM, Lipps J. Stress-induced cognitive dysfunction: hormone-neurotransmitter interactions in the prefrontal cortex. Front Hum Neurosci 2013; 7: 123.
Silva LL, Coelho EBS, Caponi SNC. Violência silenciosa: violência psicológica como condição da violência física doméstica. Interface 2007; 11(21): 93-103.
Soares ACE, Barros NCF. Palavras e silêncios: a ausência de centros de reabilitação de autores de violência doméstica no Brasil e as questões de gênero. Rev Ágora 2015; 22: 170-185. Soares LCEC, Souza FHO, Cardoso FS. Convivência familiar em três cenários: acolhimento institucional, famílias recasadas e violência doméstica. Psicol Argum 2015; 33(82): 330-345.
Short ATO, Nemeroff CB. Early Life Trauma and Suicide. In: Cannon KE, Hudzik TJ. (Orgs.). Suicide: Phenomenology and Neurobiology. Cham: Springer International Publishing, p.187–205, 2014. Disponível em: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-09964-4_11. Acesso em: 02 fev. 2021.
Tanaka M, et al. The linkages among childhood maltreatment, adolescent mental health, and self-compassion in child welfare adolescents. Child Abuse Neglect 2011; 35: 887–898.
Teicher MH, Sampson JA. Childhood maltreatment and psychopathology: A case for ecophenotypic variants as clinically and neurobiologically distinct subtypes. American J Psychiatry 2013; 170(10): 1114–1133.
Tomoda A, et al. Childhood sexual abuse is associated with reduced gray matter volume in visual cortex of young women. Biol Psychiatry 2009; 66(7): 642-648.
Tomoda A, et al. Reduced visual cortex gray matter volume and thickness in young adults who witnessed domestic violence during childhood. Plos one 2012; 7(12): 1-11.
Tsavoussis A, et al. Child-witnessed domestic violence and its adverse effects on brain development: A call for societal self-examination and awareness. Front Public Health 2014; 2(178): 1-5.
Vinberg M, et al. The BDNF Val66Met polymorphism: Relation to familiar risk of affective disorder, BDNF levels and salivary cortisol. Psychoneuroendocrinology 2009; 34(9): 1380-1389.
Whittle S, et al. Childhood maltreatment, psychopathology, and the development of hippocampal subregions during adolescence. Brain Behav 2017; 7(2): e00607.
Wright MO, Crawford E, Del Castillo D. Childhood emotional maltreatment and later psychological distress among college students: the mediating role of maladaptive schemas. Child Abuse Neglect 2009; 33(1): 59–68.
Yehuda R, Halligan S, Grossman R. Childhood trauma and risk for PTSD: Relationship to intergenerational effects of trauma, parental PTSD, and cortisol excretion. Dev psychopathol 2001; 13: 733–53.
Yoshii A, Constantine-Paton M. Postsynaptic BDNF-TrkB signaling in synapse maturation, plasticity, and disease. Dev Neurobiol 2010; 70(5): 304-22.
Yu H, et al. Association study of the decreased serum BDNF concentrations in amnestic mild cognitive impairment and the Val66Met polymorphism in Chinese Han. J Clin Psychiatry 2008; 69(7): 1104-11.
Fonte: Blog sobre a Personalidade e Transtornos Mentais por Décio Natrielli Filho